
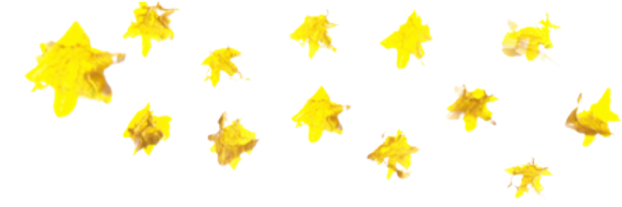


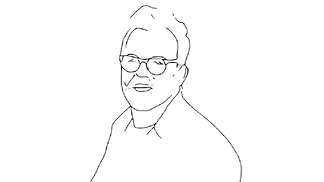


Caminhos da União Europeia
Por: Ana Rita Silva, Mariana Serrano e Romina Barreto
Seis pessoas de gerações distintas cujos caminhos, antagónicos entre si, ficaram marcados pela entrada portuguesa na União Europeia.
Da emigração às tecnologias, passamos pela difusão da música, pelo racismo, pela ciência e pelos programas de mobilidade.
Uma narrativa que percorre um cordão unificador, que nos liga:
uma viagem por temas, vivências e sentimentos.
Uns mais europeístas, outros nem tanto.







“Eu gosto muito de Portugal, é o meu país, mas… era um país com muita miséria, muitas necessidades. Por isso é que eu emigrei e muitos mais emigraram e continuam a emigrar agora, mas mais facilmente. As pessoas são mais evoluídas e têm outra maneira de ver a vida”, começa por referir José Pedro da Palma, de 71 anos. A falta de trabalho levou-o a tomar a grande decisão. Na origem estiveram problemas económicos. Um ano antes de Portugal aderir à CEE (Comunidade Económica Europeia) José Palma emigrou para França.
José, 71: Pela Emigração

Um país próspero e cuja admiração não esconde. “A França era um grande país, continua a ser um grande país. Conheci vários Presidentes da República em França. É outra maneira de ser, é uma evolução. Os franceses não se deixam intimidar como os portugueses. Os portugueses tudo o que lhes impõem eles aceitam e o francês não é assim. Por isso mesmo é que lá existe democracia e aqui acho que há pouca democracia.”
Foi em Paris que se estabeleceu durante trinta e cinco anos. A escolha foi premeditada: “Tinha lá família e pessoas conhecidas”. Já o processo de saída foi aos saltos pela estrada fora: “Fui numa camionete de excursão”, conta o mecânico de profissão que admite nunca ter sentido medo. “Era novo, tinha força, tinha vontade de trabalhar e tudo mais… e vencer na vida”, afirma.
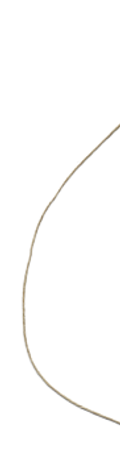

Nessa época, José tinha como moradia a casa de familiares. As saudades de Portugal matava-as de ano a ano, com vindas a casa. Também a escuta das vozes de quem amava ajudavam a atenuar esse sentimento tão português. Assim, o contacto com a família era “via telefone porque não havia os telemóveis nem nada do que há agora”, relembra. Embora houvesse muitos portugueses em Paris e até uma zona habitada apenas pela comunidade lusa, as visitas anuais a Portugal nunca foram dispensadas. Mas não só de conterrâneos se rodeava: “Espanhóis e Italianos”, também. Aliás, José acrescenta que todos partilhavam a mesma condição: “Eram a maior parte trabalhadores.”
Até arranjar emprego foi um ápice, mas não na área em que havia trabalhado até então. Apesar disso, arregaçou as mangas e lá conseguiu: “Tive de trabalhar nas obras, fui ajudante de pedreiro e depois consegui trabalhar na minha profissão, serralharia e mecânica”, recorda. Mais tarde, fruto do seu trabalho, conseguiu adquirir uma casa. “E correu tudo bem até me reformar”, confessa sorridente.
Mas, antes disso, ainda teve de ultrapassar algumas dificuldades, como a barreira linguística e a elevada carga horária à qual não estava habituado. Trabalhar durante todo o dia não foi fácil, mas lá conseguiu. Diz nunca ter sentido discriminação por ser emigrante, apesar de saber que existia.
À entrada de Portugal na CEE José estava a trabalhar em Évora e assegura não ter avistado grandes mudanças com a entrada portuguesa para o clube dos 27, pelo menos garante não terem chegado a todas as pessoas de forma paritária. “Para uns foi bom e para outros foi muito mau, porque começaram empresas a fechar, falta de trabalho. Foi bom para quem tinha muito dinheiro. Para quem tinha pouco ficou pior. Ficaram mais pobrezinhos”, explica e estabelece um paralelismo com o presente: “É o que está a acontecer agora, por exemplo”, observa.
Na opinião de José Palma, a agricultura em Portugal, assim como as medidas tomadas nesse campo, constituíram um duro revés para quem dela vivia. Para si, a União Europeia acabou por trazer consequências nefastas para o setor agrícola. Sucessivas reformas no programa europeu conhecido por Política Agrícola Comum (PAC) podem ter estado na origem de opiniões similares à de José Palma.
Recorde-se que um dos objetivos deste programa passa pela promoção e garantia do dinamismo económico e social das zonas rurais, alicerçado em um regime de cofinanciamento. Sob a alçada do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), destaca-se, ainda, um segundo vetor desta política: o financiamento às ajudas diretas e às medidas de mercado.
Nos primeiros anos da PAC a produção agrícola quase triplicou, ao mesmo tempo que foi reduzida a superfície e a mão-de-obra utilizada. Porém, tal facto, não invalidou um aumento de produtividade, bem como igual crescimento no rendimento dos agricultores.
Contudo, acabaram por consolidar o ceticismo no projeto político fatores como: a criação de excedentes agrícolas, que geram custos elevados de armazenamento; o desajustamento entre produção e as necessidades do mercado (oferta maior do que a procura); o peso muito elevado da PAC no orçamento comunitário, comprometendo o desenvolvimento de outras políticas e a tensão entre os principais exportadores mundiais, devido às medidas protecionistas e à política de incentivo à exportação, tal como o desemprego resultante da intensificação das produções com utilização de produtos químicos.
Segundo dados oficiais, divulgados pelo Parlamento Europeu (PE), a PAC sofreu, ao longo dos tempos, cinco grandes reformas. A primeira delas em 1992; posteriormente, no ano 2000, a designada “Agenda 2000” viria a complementar a reforma já implementada oito anos antes. Seguiram-se as reformas de junho de 2003, o «exame de saúde» de 2009, que marcou a consolidação do quadro da reforma de 2003, e, por fim, a reforma levada a cabo em 2013. Esta última serve de mote para examinar-se uma das medidas levadas a efeito.
“Os pagamentos únicos às explorações são substituídos por um sistema de pagamentos por níveis ou estratos, com sete componentes:
1) um «pagamento de base»;
2) um pagamento «verde», em prol de bens públicos ambientais (pagamento por ecologização);
3) um pagamento suplementar aos jovens agricultores;
4) um pagamento redistributivo que permita reforçar o apoio aos primeiros hectares de uma exploração;
5) um apoio adicional aos rendimentos nas zonas marcadas por condicionantes naturais;
6) ajudas associadas à produção;
7) por último, um regime simplificado a favor dos pequenos agricultores. As novas ajudas por hectare estão reservadas apenas aos agricultores ativos”, conforme se pode ler no sítio online do PE.
Para quem esteve emigrado antes e depois da entrada de Portugal na UE acaba por ser fácil traçar o cenário dos dois momentos. Desde logo, notava-se uma diferença nas deslocações. “Não havia dificuldades. Lembro-me que quando fui para lá não tinha a documentação para poder lutar como devia de ser. Passados cinco anos consegui arranjar a documentação e depois, já nessa altura, podia vir como queria”.

O contraste evolutivo comparativamente ao passado (pré UE) e o seu regresso definitivo a Portugal permitiram a José ter uma visão clara dos acontecimentos. O facto de conhecer os dois países contribuiu para formar a sua opinião. Nesse sentido, não se coíbe em dizer o que encontrou e o que pensou. Evolução? Claro. “Mais evoluído, derivado à globalização e tudo isso, mas, no fundo, ainda falta muita coisa para Portugal chegar ao nível de França e outros países.” A esse propósito, José verificou uma maior facilidade ao nível dos transportes - os terrestres, mas sobretudo o transporte aéreo.
Também a melhoria nas comunicações foi evidente e facilitou esse aspeto nas ligações. Para José, é nítido que existiu um grande progresso. Veloz, até. Praticamente à mesma velocidade com que os portugueses, imbuídos pelo espírito europeu, aproveitaram para realizar viagens, o que também foi – segundo diz – inequívoco. Quando questionado acerca dessa massificação das viagens José Palma afirma: “Tenho a certeza absoluta, porque a União Europeia – como lhe disse – foi muito boa para certas pessoas, mas para quem trabalhava e quem necessitava foi muito pior e continua a ser a mesma coisa”, salienta.
No entanto, com a entrada de Portugal na UE, coisas boas há a referir, como o aumento exponencial da comunidade portuguesa em França, que, conforme adianta José Palma, não só “cresceu bastante”, como também teve uma aceitação notável.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística (2020)
De facto, tantos outros, antes de José Palma, optaram pela mesma via. Dados estatísticos oficializados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam indicadores que corroboram esta visão. No ano de 1960, vinte e cinco anos antes de José partir para Paris, os números já revelavam que 3,6% dos portugueses, por cada 1.000 residentes, haviam deixado o país para viver no estrangeiro. Um indicador que conheceu um aumento exponencial na década de setenta, onde se regista uma percentagem de 7,6%. Apesar do ligeiro decréscimo na década de oitenta, com o valor percentual a atingir os 2,6% dos quais José Palma faz parte, é inequívoco que os números dispararam depois da entrada portuguesa na UE, embora não tenham seguido uma trajetória linear. Dessa forma, existem várias variações. Segundo a mesma fonte, só nos anos de 2013 e 2014, registaram-se valores na ordem dos 12,3% e 12,9%, respetivamente – altura em que, à semelhança do ano em que emigrou José Palma, o país atravessava uma crise.
Em jeito de conclusão, José deixa um apelo para que a União Europeia se torne mais benéfica para todos. Pobres e ricos. “Quem ganha a riqueza de forma diferente, pode tratar melhor os trabalhadores. É simples, assim eles tenham vontade”, finalizou.
Alexandre, 59: Pela Difusão da Música
“No início dos anos oitenta, a minha banda [Radio Macau] fez a primeira parte de um artista inglês chamado Lloyd Cole no Pavilhão de Cascais. Foi a primeira vez que um grupo português, a fazer uma primeira parte, não tinha sido vaiado nem assobiado. Pelo contrário. Tínhamos tido um encore. A própria organização estava muito admirada, porque, à partida, todos os grupos portugueses que faziam a primeira parte de artistas estrangeiros eram um bocado os bobos da corte que levavam com assobios. No nosso caso foi diferente.” As palavras são de Alexandre Cortez, músico, 59 anos de vida.


O membro fundador dos Radio Macau é quem traça o panorama musical português à entrada da década de oitenta do século passado. Um “período de liberdade”, conforme confessa, mas também marcado pelas tremuras da transição da ditadura para a democracia que não deixou incólume a indústria musical. O baixista recorda a emergência do movimento punk que, segundo admite, teve reflexos imediatos em Portugal com o nascimento de vários grupos, como os Faíscas ou os Xutos e Pontapés, que preconizavam – em certa medida – esse estilo musical e refere que, à época, todos estavam “empolgados com o facto de não precisarem de saber música, nem de serem grandes músicos para fazer bandas e para tocarem.” Pairava na atmosfera da altura um espírito rebelde. Sem esquecer o rock, Alexandre divide-o em duas fases. A saber: a fase do primeiro e do segundo boom do rock português. “No início dos anos oitenta, nós já tínhamos algumas bandas daquilo que se veio a chamar o primeiro boom do rock português. Assim daquelas mais importantes eu diria que foram os Xutos, os Heróis do Mar, os GNR.”
No seu caso, os Radio Macau pertencem à segunda vaga do boom do rock português, lado a lado com grupos como os Sétima Legião ou Mler Ife Dada. Uma fase que compreendeu os anos de 1983 e 1984. “Diria que no início dos anos oitenta ainda se ouvia alguma música daquilo que hoje chamamos por rock sinfónico e que hoje também se designa por rock progressivo.”


Com a entrada de Portugal na União Europeia, o discos chegavam a Portugal mais facilmente, o que contribuiu para um maior aumento nas vendas. Não obstante, o processo era moroso e, segundo diz Alexandre Cortez, “os discos saíam em Inglaterra e às vezes demoravam um ano a serem editados em Portugal”. Contudo, relembra a existência de “algumas lojas especializadas que importavam os discos.”
Para Alexandre Cortez, o acesso aos discos vindos do exterior era por intermédio de um amigo cujo pai trabalhava no setor da aviação. Condição privilegiada para poder ter em suas mãos os mais recentes LP’s da época e ainda fazer dinheiro com isso, conforme assume. “No meu caso, no princípio dos anos 80, nós tínhamos um amigo nosso que o pai era comissário de bordo e trazia-nos discos que comprava lá fora. Cada vez que ele vinha de um país e nós tínhamos conseguido juntar dinheiro para lhe dar para ele comprar os discos e trazer, nós íamos lá para casa dele, ouvíamos os discos religiosamente e depois fazíamos cópias para cassete e vendíamos na escola aos colegas.” Um tema que o música não se escusa de abordar: o mercado clandestino de cassetes. Todavia, o mercado – após a entrada de Portugal na UE – começava a dar mostras de que estava no auge. “Houve uma altura em que a Indústria era muito forte, vendia-se muita música em Portugal. A Indústria discográfica começou a perceber que era tempo de apostar na diversidade e tinha tanta coisa lá fora que eles começaram a editar muito mais discos.”




No entanto, diz que também iam às discotecas para ficar a par das novas tendências e, à época, a influência de terceiros na aquisição de discos era inequívoca. Alexandre Cortez faz parte de uma geração em que os amigos transmitiam uns aos outros o que era novidade. “Não era nada como hoje. O acesso à música era completamente diferente”, deixa o recado.
Quando questionado sobre se a livre de circulação de bens e pessoas se transportou, igualmente, para a música, Alexandre Cortez é perentório e conta o episódio que o marcou aquando de uma digressão em Espanha, que, no limite, fê-lo confirmar a descrença que já sentia quanto a esse aspeto. “Fizemos uma tournée de quinze espetáculos em Espanha e lembro-me que um dos problemas é que tínhamos de ter uma lista enorme com o material que levávamos todo discriminado. Eles obrigaram-nos a retirar tudo da carrinha na fronteira. Foi tudo visto, contabilizado e aí é que percebemos a não existência da livre circulação de pessoas e bens.” A mesma situação repetiu-se: “Fomos tocar a Berlim num festival em 1986, talvez, e foi a mesma coisa. Tivemos de ultrapassar uma série de fronteiras até lá chegar. Fomos de carro. Acabámos por tocar num festival que tinha dez bandas e para nós foi uma grande surpresa porque aparecemos na capa de um jornal de Berlim." A primeira página do jornal, cujo nome Alexandre não se recorda, dava conta que os Radio Macau haviam sido a sensação do festival.



Alexandre Cortez tinha 25 anos quando, em 1986, Portugal aderiu à CEE, mais tarde União Europeia. Nesse ano viajou até Berlim e ainda viu o muro que dividia um país em duas partes.
A abolição das fronteiras, a sensação de fazer parte de um elo unificador e até o facto de ter ido a Espanha e não ter de ser todo revistado são as memórias que guarda do pós 1986. Para o baixista dos Radio Macau, prevalecia um sentimento inabalável. Isto, porque, para Alexandre, mesmo estando Portugal na cauda da Europa nada destruía aquilo que designa por “sentimento europeísta”. Algo que, diz, “tinha de prevalecer.”
Elísio, 56: Pelas Marcas da Discriminação

Em 1964, nasceu Elísio Macamo em Xai-xai, dez anos antes de Moçambique deixar de ser uma colónia portuguesa. Hoje, aos 56 anos, é professor de Estudos Africanos na Universidade da Basileia na Suíça e já passou por diversos países da União Europeia, mas suas memórias dos tempos de petiz são desenhadas pelo discurso pós-independência.
Elísio relembra que tinha nas mãos o privilégio de ser considerado um assimilado - os cidadãos que tinham “absorvido” a cultura portuguesa, ou seja, saber falar, ler e escrever português e eram batizados - e não um indígena - os cidadãos africanos que, segundo a lei portuguesa, estavam sob a tutela do governo colonial por serem consideradas “pouco civilizadas”.


O estatuto, adquirido devido aos pais também serem assimilados, garante-lhe certos privilégios e direitos. Os pais podiam ter os seus filhos nas escolas frequentadas pelos filhos dos colonos, o que “significava uma melhor formação”; no entanto, as diferenças persistiam. Revela que o grau de formação dos pais era relativamente baixo: o seu pai só tinha feito o ensino primário e ele trabalhava como contínuo numa escola. Mas as desigualdades não ficam por aí: “Há coisas que os meus colegas portugueses brancos tinham e eu não. As diferenças entre as casas deles e a minha. Eram diferenças gritantes. Mas, na altura, a gente pensa que essas coisas são normais, é assim a vida. Só muito mais tarde, depois da independência, é que a gente começa a pensar e a colocar isso no seu devido contexto.”
Em 1975, Moçambique alcançou a independência. O seu governo parte numa missão de combater os atrasos causados pelo Colonialismo, procurando tapar o rasto deixado pelos anos de ocupação. Elisio relembra sentir o nascer de um novo país, que não aquele em que tinha vivido.
Além de Xai-Xai, teve a oportunidade de passar por outras moradas. Passou pela Inglaterra, em 1980, onde viveu quase 20 anos; primeiro, como estudante, mas, mais tarde, enquanto funcionário da Embaixada Moçambicana. Em Portugal, entre 1999 a 2005. Depois, foi para a Alemanha, onde cuidava da sua família, o que lhe permitiu ter uma maior vida social, e iniciou o seu processo enquanto professor universitário. Está na Basileia faz cinco anos, onde as suas vivências se restringem ao ensino e ao meio académico.
Pelas diferentes funções que teve por onde passou, considera que “seria injusto para com cada um dos países se procurasse encontrar diferenças sem ter tido o mesmo tipo de experiências em cada um deles”. Ressalta que na Alemanha, teve a oportunidade de desmanchar pré-concessões que trazia consigo e ser acolhido.
Aos 54 anos, enquanto professor universitário de Estudos Africanos, diz que o ter lecionado em várias faculdades foi fruto “do acaso” e não porque tenha almejado mudar de país. Procurou oportunidades onde estava, como aconteceu na Alemanha, ou uma melhor oportunidade, como foi o caso na Suíça. Ao exercer a sua profissão, e durante os seus estudos, foi-se apercebendo do mundo em que vivia e das contradições que nele existem.
Portugal, nas suas palavras, ficou ligado historicamente aos países colonizados: “Não é uma história bonita, mas a história ligou-nos.” Virar as costas ao seu passado e recusá-lo é uma privação de um “recurso que se ganhou”: poder escrever e ler, até participar em discussões, em português é um enriquecimento. Tornar a história num elemento identitário para os portugueses é algo natural e compreensível a seu ver. O preocupante no que toca ao racismo são “Os portugueses que, segundo o que se vê em jornais, têm dificuldades em olhar para aquilo que aconteceu durante o período colonial como uma afronta aos seus próprios valores.”
No que toca ao sentimento colonial e ao racismo, Portugal não é um caso isolado na Europa. Na Alemanha, “a relação colonial é algo ténue" por terem perdido os territórios na Primeira Guerra Colonial, antes do início da segunda década do século XX. As ligações que ficaram em nada se compara às que foram mantidas por Portugal com, por exemplo, Moçambique e Angola: procurou articular e usar as relações que tinha a seu favor. A Inglaterra, por sua vez, já acolhe pessoas de ex-colónias há muitos anos, “pessoas que participam de forma muito mais ativa nos debates nacionais, algo que em Portugal só muito recentemente”, e leva a que exista uma maior consciência dos problemas na Inglaterra do que na Alemanha, ou do que em Portugal. Já na Suíça, que não teve colónias, mas beneficiou delas - Elísio confessa que alguns colegas consideram o país “um colonizador sem colónias”.
Considera que o pensamento é influenciado por todas as trajetórias particulares dos países.


O racismo está presente pelas várias casas onde viveu, mas a forma como o mesmo é exteriorizado altera-se. “Um instinto que algumas pessoas têm na rua é de me tratar mal por pensarem que é assim que me devem tratar. Essas coisas são pequenas demonstrações.”
Para Elísio, o problema vai além do pensarem que “as pessoas negras não merecem outro tipo de tratamento”. Acredita que o seu papel de trabalhador se estivesse noutra posição que não Professor Universitário seria mais notória os pré-julgamentos, apesar de destacar que enquanto docente nota alguma reticência, “pessoas acharem que provavelmente não seja capaz de fazer aquilo que eu digo ser capaz de fazer, não porque tenham razões objetivas para isso mas simplesmente por eu ter a cor da pele que eu tenha, ter a origem que eu tenho.”
Apesar das facilidades que poderiam advir de obter um documento estrangeiro, mesmo que isso lhe possa impor restrições: “Não tenho passaporte alemão, não tenho um suiço e faço questão de não ter nenhum deles. Quero ter o passaporte moçambicano porque houve pessoas que morreram para que eu tivesse esse documento.” Mesmo que ao nível de trabalho isso implique que, antes de receber o posto de trabalho, seja preciso verificar que “nenhum alemão e nenhum europeu” possuí as mesmas qualificações para desempenhar o trabalho. Esta é uma das várias situações em que não consegue distinguir a existência de racismo ou uma exigência nacional: “Será que me estão a tratar desta maneira por eu ser aquilo que eu sou, ou alguma outra razão? Não são assim situações tão óbvias como aquela que eu vivi com o meu pai, mas que as interpreto como sendo.”

A legislação é feita aos poucos, nos vários territórios, procurando moderar acontecimentos inoportunos. Destaca que, na Inglaterra, onde há uma maior segregação, as leis que protegem as minorias já são elaboradas há muitos anos, mas que isso deriva da estrutura da sociedade inglesa: “Uma sociedade muito mais hierarquizada do que é a própria sociedade portuguesa.” Tal dificulta que defina em que país existe maior preconceito, preferindo destacar a consciência do problema: “Na Inglaterra há muito maior consciência do problema do que, por exemplo, em Portugal ou mesmo do que na Alemanha. E em Portugal há maior consciência do que aqui na Suíça.”
Em Portugal, a cor de pele não consta como um dado recolhido nos censos. Ao nível Europeu a população negra varia entre 3,3%, nos países com maior diversidade como a Inglaterra e Guales, e 0,1%, na Polónia, segundo a Foreign Policy.
À entrada de Portugal na União Europeia, estava “de saída” para a Inglaterra. Conheceu-o na década de oitenta, deparando-se com um país que não estava em pé de igualdade com o resto da Europa.
A União Europeia criou um espaço de debate, onde temas relacionados à segregação, como o racismo, são debatidos. Elísio Macamo reside perto do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, possibilita que a UE esteja representada e procure fazer a diferença. A 16 de setembro de 2020, Ursula Von Der Leyen declarou que «Os progressos na luta contra o racismo e o ódio são frágeis – conquistam‑se muito a custo, mas perdem-se muito facilmente. Portanto, é altura de mudar. Construir uma União verdadeiramente antirracista – que passe da condenação à ação.» Nesse âmbito, foi criado um plano de ação para os Estado Membros cujas medidas passam por:
- Uma melhor aplicação do direito da UE: que passa por "reavaliar este quadro e identificar potenciais lacunas", elaborando propostas até 2022.
- Uma coordenação mais estreita: através da nomeação de um coordenador da luta contra o racismo, que estará encarregue do diálogo com "as pessoas das minorias raciais ou étnicas" e terá o dever de interagir com "os Estados-Membros, o Parlamento Europeu, a sociedade civil, os meios académicos e a Comissão".
- Uma ação policial e uma proteção justas: com o apoio das agências da UE, os Estados-Membros são encorajados a combater a segregação por parte das forças de segurança e justiça.
- Medidas reforçadas a nível nacional: adotando planos de ação adaptados a cada país até ao final de 2022.
- Uma maior diversidade ao nível do quadro de pessoal da UE: procurar aumentar a representação presente entre os membros da própria comissão.
Elísio acredita que a resolução da discriminação não “passa pelo que é feito ao nível internacional, mas sim ao nacional. É a discussão que acontece dentro das fronteiras.” Apesar de Portugal fazer parte desta comunidade há 35 anos, só recentemente estas temáticas “ganharam raízes na esfera pública portuguesa.” Ao olhar para Portugal, destaca que de há cinco anos para cá, muito foi alterado e a forma “como se debate o racismo” no país evoluiu.
Acredita que o caminho a percorrer para resolver estas questões ainda é longo. No seu percurso pela União Europeia, acredita que pouco beneficiou da mesma. Mas destaca que obteve facilitismos ligados a acordos de mobilidade e comércio.


Sónia, 46: Pelas Mulheres na Ciência
Em 1974, os gritos de liberdade do povo português inundaram as ruas, praças e avenidas do país. Sónia Rocha nasceu no ano da revolução dos cravos, em Vila Nova de Gaia.
Sónia recorda as memórias de uma infância marcada sobretudo pela sua curiosidade insaciável. Destruía brinquedos, bonecas e carrinhos com o intuito de desvendar aquilo que residia no seu interior. Anos se passaram, e o interesse de Sónia em examinar a composição das coisas não mitigou, sendo as suas brincadeiras de tempos de petiz redirecionadas para a matéria viva no âmbito da biologia celular e molecular. Nas suas palavras, foi precisamente a sua “curiosidade sobre como as coisas eram feitas” que a levou a entrar no mundo da ciência.
Atualmente, as investigações de Sónia debruçam-se sobre os processos mecanísticos relativos à resposta das células a alterações de oxigénio, e visam apurar “quais são os mecanismos que conseguem fazer as células sobreviver sem oxigénio”, tendo implicações em patologias como o cancro, o enfarte cardíaco e o AVC. Aos 46 anos, a investigadora é uma voz feminina no universo académico e científico, que muitos ainda consideram como sendo “só um clube de homens”.


Sónia navegou no campo científico pela Europa fora. Estreou a sua carreira em Portugal, onde viveu os primeiros anos da sua vida até se licenciar em Biologia na Universidade do Porto, em 1996. No ano seguinte, partiu para Zurique, na Suíça, com o intuito de aprofundar a sua educação com a realização de um doutoramento, que terminou em 2000. Depois, assumiu um cargo de investigação de pós-doutorado na Universidade de Dundee, na Escócia, onde viveu 17 anos. Há três anos que está em Inglaterra, onde é Chefe do Departamento de Bioquímica da Universidade de Liverpool e ocupa o cargo de Reitora Executiva do novo Instituto de Biologia Molecular e Integrativa.
Havendo passado por várias moradas na Europa, não lhe é possível identificar disparidades na forma como os diferentes países lidam com os géneros na ciência. Tal deve-se ao facto de a desigualdade de géneros no meio científico ser “um problema de gerações e não tanto de países”. As gerações mais jovens não fazem qualquer distinção na perceção do sexo feminino e do masculino. É entre as gerações mais avançadas, dos 65 anos para cima, onde ainda reside um sentimento discriminatório: “ainda há uma grande população dos investigadores que não acredita no valor dos investigadores femininos”.

As discrepâncias entre géneros continuam a verificar-se um pouco por toda a Europa, onde vigora a sub-representação feminina a nível da profissão de investigação, da liderança de instituições de ensino superior e da categoria de topo da carreira académica. Tal é revelado no estudo levado a cabo pelo projeto europeu SAGE (Systemic Action for Gender) em 2019, financiado pelo programa Horizonte 2020, no qual o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa participou.
O número de mulheres nas universidades europeias é superior ao dos homens e está a aumentar nas áreas científicas. Por toda a Europa, a maioria dos doutorados são do sexo feminino. Contudo, segundo o relatório ‘Shefigures’, publicado em março de 2019 pela Comissão Europeia, apenas um terço dos investigadores no panorama europeu são do sexo feminino, ocupando somente um quarto dos cargos académicos mais elevados.
Sónia acredita que este cenário paradoxal é motivado por uma combinação de três fatores: a instabilidade da carreira científica; o facto de ser uma carreira “bastante árdua” e “de muitos altos e baixos”; e a pressão social exercida sobre a mulher para escolher encetar por um outro caminho, enraizado em convenções tradicionais – o abandono da carreira profissional para se dedicar exclusivamente à vida familiar.
A mudança das mentalidades misóginas que ainda perduram no meio científico passa pela aplicação prática de “políticas governamentais” que fazem “a distinção entre o que se pode fazer e o que não se pode fazer”. Nas palavras de Sónia, a inação governamental é um entrave ao progresso na carreira feminina: “tornam a decisão das mulheres muito mais difícil se não há sistema de suporte”. Políticas como a atribuição de licenças de maternidade e de paternidade ressaltam a ideia de que uma interrupção na carreira não tem de significar a sua quebra definitiva; no entanto, muitas vezes, acabam por não ser suficientes.
Sónia revela as vivências a que assiste em Inglaterra, onde o regresso ao trabalho resulta também ele no confronto da mulher com a derradeira decisão entre família ou carreira, sendo que “quando se volta a trabalhar, é muito difícil pagar os infantários, porque os preços são astronómicos”. Relembra as dificuldades a que se viu obrigada a enfrentar aquando da entrada da sua filha, de três meses à época, no infantário. Pagava mais de 1000 libras por mês. O mesmo vê acontecer com as suas colegas de trabalho, onde o salário mal chega – ou não chega de todo – para cobrir as despesas escolares. “É uma decisão bastante difícil”, confessa Sónia, “volto a trabalhar e não tenho dinheiro, ou fico em casa a tomar conta do meu filho e não tenho dinheiro, mas, ao menos, estou com o meu filho”.
Uma solução que reforçaria o apoio ao progresso da carreira da mulher espelharia a realidade que de momento se vive na Alemanha, onde “há vários institutos que têm creches locais” e, por isso, os trabalhadores dos respetivos institutos não necessitam de cobrir as despesas escolares dos filhos. “Faz parte do pacote que recebem”, explica Sónia. Tal permitiria igualmente a criação de um ambiente laboral positivo ao mitigar “a ansiedade de saber se o filho ou filha está bem”, tornando-se possível “ir ao infantário durante 5 minutos num intervalo de café”.
A seu ver, existem agora mais oportunidades para o sexo feminino no espaço laboral. As diretivas aprovadas pela União Europeia no âmbito do princípio de igualdade de tratamento entre homens e mulheres resultaram na aplicação da discriminação positiva em vários estados-membros. Assim, são levadas a cabo medidas destinadas a prevenir ou compensar desvantagens relacionadas com o sexo, “porque eles viram que os números são muito baixos”. Existem “partes do recrutamento que é só dirigido a mulheres” de forma a incentivar o aumento da representação feminina.
No entanto, as desigualdades ainda se mantêm. Segundo um estudo realizado pelo projeto europeu SAGE em 2019, apenas 13% das instituições de ensino superior em Portugal são chefiadas por mulheres. Para Sónia, só serão mitigadas as desigualdades de género “quando houver mais mulheres a poderem mostrar que tudo é possível”. Sónia considera que é necessário a existência de role models, mulheres em cargos de direção que mostrem que é possível “conciliar tanto a parte familiar como a parte da carreira também”. Mulheres que pavimentem o caminho para uma maior representação feminina no meio académico e científico. Mulheres que tornem “mais fácil para as gerações mais novas verem ‘oh, é possível, se ela conseguiu, porque não?’”. Considera que Mónica Bettencourt-Dias, diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, é um exemplo a seguir.
Nas suas palavras, os últimos 25 anos no meio científico europeu foram “extraordinários”. De 1980 até 2000, os Estados Unidos eram “o único lugar conhecido no mundo top de ciência”. Estudar ou fazer um pós-doutorado no país era uma espécie de “dogma”, um pré-requisito para aqueles que ambicionavam “ser alguém” na esfera científica. Com o erguer da União Europeia e, consequentemente, com o desenvolvimento das áreas da ciência que esta viabilizou, o padrão mudou: “já é possível fazer uma carreira não saindo do continente europeu”. Agora, a maior parte dos estudantes europeus permanecem na Europa e usufruem da livre circulação de pessoas, viajando entre os vários países. “Alemanha, Suécia, França, Bélgica”, enumera a investigadora. Acredita que a Europa está agora ao mesmo nível – ou até acima – dos Estados Unidos no contexto da ciência.
A seu ver, o nascimento da União Europeia possibilitou uma maior celeridade na investigação em território europeu: “foi a boa visão de alguns dos governantes do Conselho Europeu, que fizeram investimento e financiamento do projeto de colaboração por todos os países europeus, mas também abordando alguns dos países extra, que não estão parte do bloco europeu”. Fala de países como a Noruega, a Suíça e Israel. O projeto conseguiu “melhorar” bastante o calibre da ciência no continente.


Para a bióloga, “em vez de ser de competição, há muita colaboração e treino das pessoas em vários países, em vários laboratórios”. Refere as Ações COST como um bom exemplo potenciador dos avanços possibilitados no desenvolvimento e conhecimento científico. O COST, um programa financiado pela UE, permite que investigadores e inovadores estabeleçam as suas próprias redes de investigação numa ampla gama de tópicos científicos. Estas redes designam-se por Ações COST.
Importa sublinhar que a União Europeia permitiu desenvolver a investigação a nível nacional. Este ano, Portugal conseguiu captar 1020 milhões de euros de financiamento em projetos de investigação e inovação com o programa Horizonte 2020. Ao todo, foram aprovados 2180 projetos.
Nos últimos anos, considera que se tem assistido a políticas que ajudem a incentivar o papel da mulher no campo científico: “há várias iniciativas para ajudar a poder-se fazer as várias partes da vida, tanto a familiar como a académica”. Estas são medidas cujos efeitos consegue ver na prática. Quando iniciou a sua carreira, o número de professoras catedráticas do sexo feminino “era por volta de 10%”; agora, ronda os 25%.
Aos 12 anos, em 1986, Sónia viu Portugal aderir à Comunidade Económica Europeia (CEE), como era designada à altura. Ainda residia no país, estando a frequentar o liceu. Para a investigadora, a União Europeia é um “ideal excelente”, assente na colaboração e cooperação entre os estados-membros.


Maria Inês, 31: Pela Mobilidade
Maria Inês Ruela já nasceu com Portugal enquanto membro da UE. Hoje, tem 31 anos, mas na sua segunda década decidiu partir em viagens que lhe “mudaram a perspetiva e abriram horizontes”. Aos 20 fez um interrail, em conjunto com os seus amigos, e aos 22 decidiu estudar fora do país com o programa Erasmus. Acredita que essas experiências a tornaram numa “pessoa mais rica e culta”, talvez até mais faladora e aberta, e com uma maior bagagem de países e vivências.
Ao longo dos anos, os programas de mobilidade que a União Europeia disponibiliza dão a milhares de jovens a oportunidade de conhecer mais. Em 2019, estima-se que cerca de 940 000 pessoas desfrutaram do programa Erasmus + (enquanto estudantes, estagiários ou voluntários) e, ainda no mesmo ano, mais de 40 000 passes de interrail foram oferecidos a jovens que completaram os dezoito anos em 2018. Para a Maria Inês, as duas experiências exigem uma preparação e geram uma experiência diferente.
No ano de 2009, partiu numa viagem de 22 dias, ainda com o bilhete em papel, com seis amigos. Relembra que a experiência esteve toda nas mãos do grupo: cada um ficou com um destino ao seu encargo, através de um sorteio, e procurou planear o que seria feito, escolher alojamentos e aprender um pouco sobre a cidade para ensinar aos restantes. O início não foi o comum: ao invés de saírem a partir de Portugal já no comboio, decidiram viajar até à Alemanha de avião e só aí começaram a fazer as deslocações de comboio.
Relembra que o material usado para o planeamento parecia “pré-histórico”: o livro com os horários do comboio e um guia, em papel, da cidade que lhe tinha sido atribuída. Quanto ao que não estava planeado, ficava ao critério do grupo. Votavam à altura quem era a favor: “Éramos seis, às vezes podia dar empate. Hoje vamos dormir nesta estação para apanhar o comboio para Dubrovnik? Era tudo um bocado assim democrático e muito à base de livros.” A Internet também era utilizada, mas em nada se compara com a facilidade a que se encontra nos dias de hoje em que “em dois minutos já se sabe onde é que está e para onde vai e quais são os horários e quanto tempo de espera para o comboio.”
Foi movida pela vontade de conhecer novos países, “sem os pais, com um grupo de amigos, completamente à descoberta.” Parte da organização passou pela gestão do dinheiro, e, apesar de não terem sido extremamente rígidos, Maria Inês relembra que, a determinada altura, foi preciso “apertar o cinto”: pequenos almoços à base de feijão em lata, escolher se deveriam ir ou não a uma discoteca ou museu, ficar a dormir na estação para não precisarem de ir para um alojamento ou fazer a dormida no comboio para não fazer mais uma paragem.


�
A fome de conhecer mais foi vivida na sua segunda experiência. No ano de 2011, enquanto aluna de Medicina da Universidade de Coimbra, passou um semestre na Warsaw. Sair do seu ambiente e conhecer um novo sistema de ensino: “Na Polónia absorvi a cultura e pessoas novas, de países diferentes, com várias perspetivas e com bagagens completamente diferentes das minhas.”
O Erasmus é estruturado: Maria Inês relembra que a seu cargo estava mentalizar a família, estruturar tudo o que precisava de levar para seis meses em pouca bagagem, arranjar uma residência e procurar a localização dos supermercados e outras necessidade; pois grande parte da organização passa pelas faculdades e secretarias. Apesar do seu ano ter sido o primeiro a fazer Erasmus naquela instituição, não houve complicações nos procedimentos.
A escolha do tempo que passaria fora, passou pelas responsabilidades que tinha na própria universidade: estando no núcleo de estudantes, acabou por optar ausentar-se apenas por um semestre para não faltar com as suas funções. Retrospectivamente, acredita que a duração foi a ideal, apesar de sempre ter idealizado mais tempo. A sua vida académica pouco mudou: em Coimbra já estava deslocada de casa, em Famalicão, por isso já tinha aprendido a fazer a sua gestão sozinha. Ao nível dos estudos em si, pensa que o impacto pode não ter sido sumamente positivo.
Foi recebida pelo frio: quando chegou, os termómetros marcavam 22 graus negativos, o que levou a que antes de se adaptar à cultura se adaptasse ao ambiente. Uma das falhas que aponta é não ter ido tão preparada quanto deveria para o frio. Quanto à cultura, sente que as pessoas eram muito fechadas, mais reservadas do que no seu país. Além disso, nem todos comunicavam em Inglês. A sua viagem não se limitou aos estudos: ocupou parte do seu tempo a visitar vários países que se encontravam nas redondezas.
Confessa que muitas das viagens foram realizadas graças à bolsa de estudos, uma vez que continuava a ter o mesmo fundo de maneio da família que recebia já estando fora de casa. As viagens que fez durante o Erasmus deram-lhe a oportunidade de melhor conhecer a Europa. Perceber quais as diferenças e semelhanças, ver de perto culturas até então desconhecidas. Agora com mais idade, diz que três raparigas de 22 anos num carro colocou-as em situações que poderiam ter corrido muito piores.
Nos países por onde passou, lembra que a UE foi uma ajuda. O facto de poder passar livremente nas fronteiras descansava-a. No entanto, naqueles que não integravam a comunidade, sabia que poderia ter problemas e nem sempre conseguir entrar.
As suas visitas foram sobretudo a países mais desenvolvidos e economicamente mais estáveis, mas no Kosovo - que ainda está na lista de futuras adesões à UE -, por exemplo, diz que nada tinha a ver com o resto do contexto europeu: era um país recente e pouco desenvolvido. Nas casas em tijolo cor de laranja, as pessoas viviam em condições que em nada tinham a ver com as que se têm em Portugal. Na Albânia, as estradas não tinham faixas, relembra a imagem de “uma criança a conduzir uma moto”. Em Sarajevo, não havia passeios definidos, era tudo em gravilha, “quase como numa cidade medieval”.
Acredita que, ao longo dos anos, a União Europeia se tem tornado um amortecedor ao choque cultural: com o papel de “unificação” e “homogeneização”, “a tendência é, não igualarmos, porque seria impossível, mas tentarmos ter todos as mesmas condições”. Sabe que sem a entrada na União Europeia, a sua experiência por estes países não seria possível, estando esta assente na facilidade de mobilização. Considera que, apesar de não pensar muito sobre política e organização, os programas de mobilidade podem aproximar os jovens da democracia europeia, uma vez que “abrem horizontes”. No entanto, ainda há muito por fazer para que os jovens se integrem e se aproximem desta União.


Rita, 23: Pelas Redes Sociais
Rita Velha nasceu em 1997, onze anos após a entrada de Portugal na União Europeia. Pertence a uma geração que presenciou o virar do milénio, cujas memórias de infância são marcadas pela globalização e pela rápida transição para uma era tecnológica e digital, onde tudo é instantâneo e de fácil acesso. São os jovens adultos designados de millennials, que obtêm informações e comunicam entre si à distância de um clique. Fluentes no domínio das redes sociais, acabam por ver, em várias ocasiões, a sua saúde mental afetada pelas práticas digitais.
Lembra-se tenuemente do seu primeiro contacto com as tecnologias. Entre os 12 e os 13 anos, Rita recebeu o seu primeiro computador portátil: “mesmo assim, comparando com os computadores de hoje em dia, aquilo era completamente diferente”. Até à época, utilizava “aqueles computadores fixos com caixas gigantes” do seu pai, onde, de vez em quando, acedia aos jogos populares da altura.
Hoje, aos 23 anos, mal consegue imaginar uma vida sem elas, enfatizando que “hoje em dia, tudo gira à volta das tecnologias”. O simples ato de conectar o telemóvel a uma coluna para ouvir música, algo que toma como garantido na sua vida quotidiana, não seria possível. É assim que Rita mede o impacto das tecnologias no seu dia-a-dia: “são coisas assim pequeninas que uma pessoa consegue perceber que realmente isso faz um impacto gigante”.
Considera que faz um uso excessivo de telemóvel e de redes sociais somente quando está sozinha, tendo um tempo de ecrã mais controlado quando está na companhia de família e amigos. No desenrolar do quotidiano, o seu cérebro pode estar ocupado a trabalhar ou simplesmente a ver um filme, mas o foco desvia-se momentaneamente para o “hábito” de verificar o smartphone com regularidade: “há sempre aquela tendência para agarrar no telemóvel e estar ali cinco minutinhos”. Numa semana, em média, o seu tempo de ecrã pode chegar às seis horas, dividido entre diferentes aplicações como o Instagram, o Twitter e o Whatsapp.
Recém-licenciada no curso de Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, faz cerca de dois anos que Rita se dedica à criação de conteúdos digitais, disseminados na plataforma social Instagram, já havendo também iniciado a transição para o YouTube. O ofício ocupa-lhe duas a três horas diariamente. Por esta razão, acaba por desculpar as várias horas que passa diante do ecrã, sendo muitas delas circunscritas ao trabalho que exerce nas redes: “Como eu uso muito as redes sociais também como trabalho, digamos assim, às vezes eu desculpo um bocado esse tempo”.

Em outubro, o Centro Comum de Investigação (CCI), o serviço científico interno da Comissão Europeia, divulgou um relatório que revela que os portugueses passam, em média, 129 minutos por dia nas redes sociais. Os dados indicam que Portugal é o quinto país da União Europeia com a maior utilização destas plataformas.
Segundo o CCI, as redes sociais reúnem características propícias para a propagação de fake news, dispondo de “algoritmos que promovem conteúdos atraentes” e de uma “forte predisposição das pessoas para se orientarem para notícias negativas”.
Por sua vez, o relatório da EU Kids Online Portugal, realizado em 2019 com dados do ano anterior, assinala como os jovens e crianças entre os nove e os dezassete anos lidam com os riscos e oportunidades a que são expostos na Internet. Quase um quarto (23%) dos inquiridos revelaram viver, em 2018, situações online que os incomodaram ou perturbaram.
Fonte: EU Kids Online Portugal (2019)
Para Rita, o uso intensivo de dispositivos tecnológicos e de redes sociais pode consubstanciar um perigo dependendo das circunstâncias em que este ocorre. A seu ver, torna-se um comportamento preocupante nomeadamente no ambiente social, como, por exemplo, quando “um grupo de amigas está num café e, metade do tempo, em vez de estarem a falar umas com as outras, estão ao telemóvel”. Nas situações motivadas pelo tédio, não considera ser um problema alarmante: “quando é aquela situação em que uma pessoa está em casa sozinha e, por acaso, não tem nada para fazer e está ao telemóvel, se calhar não é tanto”.
Não obstante, considera repreensível o comportamento de determinadas criadoras de conteúdos, que veiculam nas suas plataformas sociais a imagem inalcançável de uma vida perfeita.
Nas suas palavras, as designadas influencers têm uma responsabilidade social acrescida para com o seu público no cenário digital; porém, todos os internautas deverão ter uma atitude cautelosa e consciente ao disseminar informações nas plataformas sociais: “independentemente da tua quantidade de seguidores, ou seres influencer, ou uma pessoa que não faz nada disso, eu acho que tu devias ter um bocado de cuidado com o que tu metes nas redes sociais”. Ressalta que deverão acompanhar a atualidade para terem “noção do que é que está a acontecer no mundo”.
Quando era mais nova, Rita ficava refém da imagem utópica perpetuada no online digital. Olhava para os outros, nomeadamente raparigas, que via no seu ecrã, e perguntava-se «porque é que eu não posso ser assim?» e «porque é que esta pessoa tem isto e eu não?». Foi durante os tempos de mocidade que sofreu os efeitos negativos das redes sociais na sua saúde mental: “eu sinto que, quando eu era mais nova, as coisas afetavam-me mais e era mais fácil eu comparar-me com alguém que eu via nas redes sociais e rebaixar-me a mim, à minha vida por não ter algo assim”. Aos 23 anos, as plataformas sociais já perderam o seu carácter de novidade, não a afetando ao mesmo nível, deixando de ser “assim tão fácil espantar uma pessoa com as redes sociais”. Acrescenta ainda que “há medida que tu vais crescendo, eu também acho que tu vais aprendendo certas coisas e também vais ter noção de quando é que tens de parar” de estar nas redes.

Quando Rita Velha nasceu, fazia onze anos que Portugal integrava a União Europeia. Não havendo vivido a sua ausência, considera que a união económica e política não tem um impacto na sua vida quotidiana: “se não fizesse parte da União Europeia não iria fazer assim tanta diferença”.
Portugal, apesar de ser um estado-membro, continua a ser um “país esquecido”. Rita perspetiva isto relativamente à criação de conteúdos digitais. Já contactou várias marcas com as quais visava cooperar, que lhe responderam que não trabalham com pessoas do país, ou que não enviam itens para lá. “Não é por fazer parte da União Europeia ou não”, salienta.
Nas eleições europeias de 2019, apenas 28% dos jovens entre os 18 e os 24 anos votaram nas Europeias. Rita integrou a baixa percentagem. Geralmente, está sempre a par com a atualidade; porém, as semanas antes do ato eleitoral estão reservadas para uma pesquisa mais aprofundada, onde procura várias informações para decidir “o que é que realmente merece o [seu] voto”.
A seu ver, a abstenção é encarada por muitos jovens como uma espécie de um ato de rebeldia contra o sistema vigente: “Não votarem, na cabeça deles, é uma forma de contrariarem o sistema e irem contra o que está a acontecer”. É assim que sentem que mostram a sua “voz”. Rita sente que esta atitude é um “erro”, frisando a importância do voto e, principalmente, do voto informado. Assim, “cada pessoa deve tirar uns tempos para si própria e decidir por ela própria”, sendo importante “pesquisar” para “ver o que é que vale a pena”.
Acredita que o distanciamento das gerações mais jovens em relação à União Europeia deve-se ao facto de já terem nascido com ela consolidada, não compreendendo na totalidade o seu impacto: “eu acho que há muita gente que nem sequer questiona o que é a vida sem a União Europeia, porque, lá está, sempre viveu na União Europeia”. Segundo Rita, foi com o Brexit que realmente se começou a conceber o papel da união económica e política, e como poderia ser a vida sem a sua existência.
